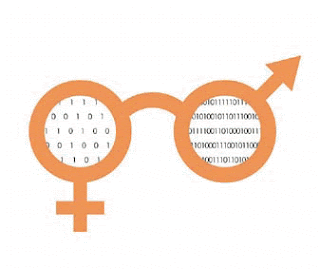Em 1997, foi lançado o suspense The Game (‘Vidas em Jogo’, no Brasil), dirigido por David Fincher e protagonizado por Michael Douglas; desde então, muitos foram os que se disseram decepcionados e/ou irritados com seu desfecho. Tal reação, no entanto, é compreensível, dado o fato de que a película pretendeu algo não muito usual em termos narrativos: brincar com nossa expectativa até o limite do suportável e, mais importante que isso, abordar um dos temas mais caros a uma determinada corrente esotérica infiltrada em Hollywood: o poder oculto de manipulação da realidade. A quem não notou esse detalhe fundamental só restou mesmo ficar decepcionado com os constantes “abusos” de verossimilhança ou indignado com os seguidos finais falsos e quebras de expectativa. Quem, entretanto, foi capaz de captar sua verdadeira intenção esotérica pôde apreciar uma verdadeira obra de arte, construída à perfeição e elencando-se como um dos grandes filmes do gênero, pois que brilhantemente dirigido e produzido.
Pelo menos desde o clássico literário ‘Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister’ (1795), de Johann Wolfgang von Goethe (curiosamente nascido no mesmo dia que o diretor David Fincher: 28 de agosto), temos visto este específico tema ser abordado na ficção: a idéia de sociedades secretas que manipulam eventos mínimos da realidade para fins de determinar o destino humano (sejam em proporções históricas ou individuais). Wilhelm Meister, o protagonista do romance de Goethe, termina sua trajetória de formação pessoal descobrindo que por trás de uma série de eventos ocorridos na sua vida, atuava, de forma constante e imperceptível, um grupo de agentes camuflados pertencentes a uma tal Sociedade da Torre (uma sociedade secreta concebida de forma genérica para a estória, porém, evidente, ressoando o mesmo espírito da Maçonaria e da chamada “Mão Oculta”, cujo sinal característico está no gesto de ocultar uma das mãos no paletó, como vemos num famoso retrato do jovem Goethe e de outras diversas personalidades históricas)... sem saber, entretanto, até que ponto essa “mão oculta”, com sua influência subliminar, o teria levado a tomar as decisões que tomou durante seu percurso juvenil.

Trazendo o foco para um contexto mais contemporâneo, me vêm à cabeça quatro filmes recentes que exploram justamente este mesmo aspecto temático: Unknown (2011), Limitless (2011), The Manchurian Candidate (2004) e Arlington's Road (1999).
Em Unknown (Desconhecido, no Brasil), um cientista — interpretado por Liam Neesom — sofre um acidente de carro e, ao acordar do coma, depara-se com a desesperadora situação de ser dado por todos ao seu redor como desconhecido, enquanto outro sujeito toma completamente seu lugar num refinado encontro social na Alemanha; o mais sinistro é que até sua esposa mostra reconhecer o usurpador e não ele próprio como o legítimo dono de sua identidade, fato esse que o deixa profundamente perturbado e, inclusive, com dúvidas a respeito de sua própria história pessoal.

Após alguns reveses, o personagem de Liam compreende, no entanto, que está sendo vítima de uma conspiração, motivada pelo fato de ter ele acesso a certos círculos privilegiados da elite científica mundial. Então, completamente abandonado em Berlim, o cientista busca ajuda de um velho detetive particular nativo da cidade. Enquanto explica seu caso ao detetive, Liam comenta sobre a natureza extremamente profissional dos conspiradores: “Os responsáveis estão planejando isso há algum tempo, eles têm passaporte, cartões de crédito, fotos de família... pelo amor de deus, eu acho que isso requer preparação, não é mesmo? Eles têm conhecimento detalhado da minha pesquisa, do meu relacionamento com o professor...”, até que o detetive o interrompe: “...além do fato de que você ia passar por um acidente aleatório, que daria chance a um estranho de tomar o seu lugar... Este pessoal pode ser bom, mas não é Deus.”
Nessa pequena linha de diálogo, encontra-se discretamente sinalizado o cerne filosófico da escola esotérica em questão: a pretensão de ser como que Deus na Terra.
Ao final, é revelado que o protagonista (assim como sua aparente esposa) era, na realidade, um agente secreto dessa mesma organização que o perseguia, mas que, devido aos danos cerebrais causados pelo acidente de carro, acabou assumindo como sua real identidade a do cientista (essa sim um mero disfarce preparado para ele em sua missão de se infiltrar no tal círculo de elite para roubar o projeto científico), e só por isso havia sido, então, descartado, de modo que outro agente (um de reserva; que no entanto é percebido pelo desmemoriado Liam como o “usurpador”) cumprisse a missão de que ele se esquecera após o acidente. No entanto, sem ter mais nenhuma memória certa, ou identidade definida, ou mesmo propósito na vida, o protagonista decide voltar-se contra essa mesma organização secreta (que afinal agora o perseguia para uma queima de arquivo) e acaba cumprindo, desse modo, um objetivo contrário ao que de início havia sido designado para realizar: o de salvar este mesmo projeto científico, cujo caráter revolucionário é o que justamente incomodava a tal organização secreta (“conservadora”, “reacionária”, e portanto malvada).
E aqui entra o elemento mais desafiador da estória, que só pode ser retido através de uma leitura sutil: a inocente taxista que, ao longo de toda a trama, ajuda o herói a se safar dos perigos é, também, uma agente disfarçada, só que de uma outra organização secreta — essa sim muito mais secreta, pois que se mantém oculta até aos próprios telespectadores —, cuja missão era justamente influenciar os mais variados eventos na trajetória do protagonista. Pois, embora não fique explícito, o final ambíguo, com o “cientista” e a “taxista” juntos, adquirindo uma identidade nova e sumindo no meio da multidão rumo a um novo objetivo, é toda a indicação necessária para que, na linguagem hollywoodiana, se confirme essa hipótese.
Logo, temos a seguinte mensagem subliminar passada pelo filme: como dizia o detetive alemão, o pessoal da organização secreta que tentava sabotar o projeto científico é bom (no sentido de eficiente)... mas a outra organização, que atuou de forma oculta (inclusive aos próprios telespectadores) para proteger a pesquisa, e que estava assim muitos passos à frente desse primeiro grupo secreto, manipulando eventos ainda menores e mais complexos — como o “acidente” que faria o protagonista perder sua memória e então passar para o lado dela —, essa sim representa uma força divina, para a qual nada parece impossível de executar (além disso, sendo a taxista-espiã um arquétipo do sagrado feminino, que traz a redenção ao protagonista).
The Manchurian Candidate (Sob o Domínio do Mal), de 2004, é outro filme que, à semelhança de Unknown, reflete uma disputa entre duas organizações secretas rivais nos bastidores da política. Mas enquanto Unknown só insere de forma explícita no enredo a organização secreta do mal, mantendo oculta a do bem (perceptível apenas naquela leitura sutil), The Manchurian Candidate já prefere revelar ao telespectador a existência concreta dessa segunda organização do bem (o que é feito, no entanto, só no final).
Aqui, temos uma trama que gira em torno de uma perversa agência governamental, que programa mentalmente um pequeno grupo de militares (aproveitando-se, claro, os diversos mitos em torno do projeto MKUltra). O objetivo de tal agência é fazer com que esses soldados, já então como civis, executem tarefas pré-determinadas, as quais, em perfeita sintonia, devem resultar na concretização de um ambicioso plano político: colocar um desses homens-cobaias como o novo presidente dos EUA, já que ele irá obedecer como marionete a todas as ordens dos comandantes ocultos. No entanto, esses indivíduos manipulados não têm consciência de nada do que se passa (como a experiência de lavagem cerebral que sofreram no passado ou mesmo as tarefas que deverão cumprir no futuro), pois memórias artificiais foram implantadas em seus subconscientes e eles só realizarão as tarefas quando personalidades alternativas forem ativadas por comandos específicos numa espécie de estado hipnótico.

No final, porém, o protagonista (Denzel Washington), que é um desses soldados marionetes, também, como o protagonista de Unknown, acaba realizando um objetivo contrário ao que inicialmente fora programado pela agência maligna. Isso porque uma amiga completamente ocasional, que o ajudava com ares de inocência, e que de algum modo parecia até trabalhar para essa mesma agência maligna (como o próprio Denzel passa a suspeitar em algum ponto), no fim se revela uma agente secreta, só que de uma agência rival àquela, ou seja, uma do bem. Então, ela só precisou reprogramar a mente de Denzel para que, no preciso momento em que ele havia sido programado para assassinar o presidente, acabasse contudo atirando em seu colega manipulado (o recém eleito vice-presidente) que estava lá para se apropriar do posto do novo presidente após esse ser executado em pleno discurso de posse (ou seja, de acordo com uma famosa teoria da conspiração, o colega de Denzel seria o equivalente fictício do Lyndon Johnson, que de vice-presidente assumiu a posição do Kennedy após esse ser morto, o que o teria permitido retomar certos planos de guerra do governo; enquanto Denzel ficaria como o Lee Oswald da estória — embora o filme inverta o resultado final da situação, salvando ficticiamente o “Kennedy” e tendo uma vingança contra os conspiradores).
Agora veja-se que é possível traçar uma série de elementos análogos entre esses dois filmes:
- o protagonista fazia parte de um plano diabólico e estava de algum modo destinado a executar uma ação perversa;
- no entanto, sem ao menos perceber, seu destino é influenciado por uma força invisível que o faz realizar exatamente o contrário do que estava programado para fazer;
- essa força invisível está representada por uma organização extremamente oculta (do bem) que se adianta em relação ao outro grupo secreto do mal;
- temos uma presença feminina que age em nome da organização secreta do bem e que está disfarçada de uma pessoa simples do povo (taxista, num caso; caixa de supermercado, no outro), de quem jamais se suspeitaria que estivesse em tal posição;
- o plano diabólico da organização maligna consiste em levar a cabo uma “política conservadora” (num caso, sabotar um projeto científico de caráter progressista, que prejudicaria os grandes industriais; no outro, colocar no governo um novo presidente, que é sustentado pelos setores militaristas), sendo portanto a organização secreta do bem uma representante das forças políticas revolucionárias que teoricamente combateriam o jogo sujo dos conservadores;
- o protagonista tem sua memória danificada e fica sem saber que a princípio estava servindo o mal... no entanto, influenciado pela agente da organização oculta do bem, muda de lado após uma experiência catártica de recuperação de suas lembranças obscuras (em linguagem simbólica, nesse instante ele atinge a ‘gnosis’, o conhecimento místico, e isso graças à aceitação do elemento feminino sagrado — a Eva com seu fruto proibido —, descobrindo que vivia uma ilusão no plano demiúrgico);
Como se vê, tem-se dois filmes diferentes, mas que acabam contando praticamente a mesma estória, ou que ao menos reproduzem a mesma estrutura básica de mitologia gnóstica, com uma série de pontos em comum. Muitos outros filmes seguem este exato padrão mitológico, na maioria das vezes porém apelando a elementos sobrenaturais e puramente fantásticos. Assim, o diferencial que vemos nas obras citadas é que essas buscam trabalhar a idéia de manipulação da realidade no âmbito de um universo veraz (isto é, sem o subterfúgio de realidades alternativas, mágicas ou cyber-futuristas). Por essa razão é que a verossimilhança dos fatos narrados acaba tendo que ser forçada a uma zona crítica de nossa tolerância especulativa, levando-se em conta o realismo proposto nos filmes. Ainda assim, sendo precisamente este o objetivo — mostrar que, mesmo em nosso mundo real, concreto, as sociedades secretas possuem completo domínio da realidade — não se pode dizer que o caráter inverossímil dessas manipulações se deva a falhas do enredo; de fato, esse caráter inverossímil (mas não absurdo, mágico, sobrenatural) constitui o próprio trunfo em que tais grupos ocultos desejam se ver celebrados enquanto forças que já ultrapassaram todos os limites comuns de poder humano.
O filme Limitless (Sem Limites), de 2011, embora não ofereça exatamente o mesmo tipo de relato sobre organizações secretas que manipulam a trajetória inteira de um personagem, flerta com este assunto em diversos pontos da trama, sobretudo no desfecho, onde é explicado como se daria a extensão de poder mental desses indivíduos tão especiais pertencentes a sociedades secretas (sendo o protagonista um símbolo dessas pessoas).
A estória é centrada numa nova substância farmacêutica produzida clandestinamente, que acaba vazando para mãos erradas; acontece que essa substância, embora apresente sérios danos colaterais a quem a utiliza (análogos aos de uma droga como a cocaína), possui efeitos quase milagrosos, tornando-se assim objeto de forte disputa entre indivíduos do submundo da indústria e do crime. O efeito dela consiste em potencializar a capacidade cerebral de quem a ingere, de modo a tornar o indivíduo praticamente um gênio instantâneo, apto a manter-se por um tempo num estado de super concentração e inspiração, podendo assim realizar tarefas quase sobre-humanas.
Com essa incrível habilidade, o protagonista — que a princípio é só um escritor fracassado que por acaso topa com um traficante dessa substância — se vê então com uma disposição que jamais tivera antes e, dessa forma, passa a resolver com extrema facilidade todos os problemas de sua vida cotidiana, além de aprender rapidamente a fazer coisas que exigiriam décadas de dedicação. De escrever como um brilhante literato a dirigir como um piloto profissional, de falar vários idiomas a dominar gráficos da bolsa de valores, ele acaba em pouco tempo transformando-se num bem sucedido nome do mundo financeiro... sendo daí promovido como braço direito de um big boss do universo corporativo (interpretado pelo Robert De Niro).

Naturalmente, conflitos vêm e reviravoltas acontecem ao longo do filme... e no fim vemos o protagonista discutindo com este que foi seu patrão quando ainda trabalhava no setor financeiro. Mas agora nosso herói é um político em ascensão que tem o objetivo de se tornar presidente dos EUA, e já não quer mais nenhuma ligação com seu ex-chefe, pródigo em trabalhos sujos. Diante da recusa de seu antigo empregado em associar-se politicamente aos seus negócios obscuros, De Niro passa a chantageá-lo e inclusive ameaçá-lo de morte, mostrando que um político — mesmo um futuro presidente, ou sobretudo um futuro presidente — não tem lugar neste mundo, e não pode atuar de forma alguma, se não estiver atendendo aos interesses escusos do grande capital, já que nesse caso corre-se o risco de ter sua carreira arruinada ou mesmo sua vida destruída.
Nesse momento, com uma postura sobremaneira confiante e serena, o protagonista põe-se a dar provas de que não tem mais por que se intimidar com as ameaças do magnata, mesmo sendo esse um sujeito de enorme poder e influência, pois agora é ele quem está numa posição de superioridade, podendo dar as cartas no jogo — isso por conta da inimaginável capacidade cerebral adquirida ao longo dos anos de rápida evolução da sua sinapses neurais. “A van baterá na traseira do táxi... o motorista está distraído, falando no celular a cinqüenta por hora, vinte metros para frear; ele não tem espaço...”, para o que, sem entender o brusco e aparentemente despropositado comentário, De Niro pergunta: “que van?” Em questão de segundos uma van bate na traseira de um táxi do outro lado da rua. “Eu vejo tudo, estou cinqüenta passos a sua frente e de todo mundo. Acha que eu não tenho alguém com uma arma apontada para você agora mesmo? Como sabe se estará vivo ano que vem? Batimentos cardíacos irregulares, paredes do coração dilatadas, a válvula da aorta está reduzida, precisa trocar rápido... mas você já sabia disso, não é?”
A habilidade de prever acontecimentos a partir de sinais mínimos do ambiente e fazer leitura fria ou diagnósticos médicos com simples toques para sentir a pulsação do enfermo, tudo isso evidencia que o protagonista atingiu agora um nível supremo de inteligência, que lhe permite compreender o mundo como uma espécie de relógio mecânico, do qual é possível enxergar todas as mínimas engrenagens em funcionamento a fim de determinar o que cada haste estará marcando a cada exato instante. Em linguagem gnóstica, o véu do mundo ilusório abriu-se como uma cortina, revelando a natureza espiritual da realidade por trás do universo grosseiro da matéria.

Nesse ponto, tudo é espiritualmente visto como matrizes numéricas (como entendido por Pitágoras) e nada mais é um mistério. Todas as coisas podem ser conhecidas... como no experimento mental de Laplace: “Nós podemos tomar o estado presente do universo como o efeito do seu passado e a causa do seu futuro. Um intelecto que, em dado momento, conhecesse todas as forças que dirigem a natureza e todas as posições de todos os itens dos quais a natureza é composta, se este intelecto fosse vasto o suficiente para analisar essas informações, compreenderia numa única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do menor átomo; para tal intelecto nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, seria presente perante seus olhos”

Aqui não tem como não recordar o clássico Matrix, que, embora não seja o foco da nossa análise (por se tratar de uma ficção científica), mostra bem a idéia de iluminação gnóstica na cena em que Neo, após ressuscitar como um Cristo, começa a enxergar o mundo da Matrix (o plano ilusório do Demiurgo) como o que realmente é: um sistema de coordenadas virtuais, que apenas correlacionam uma infinidade de matrizes numéricas. Então os números (como códigos e símbolos esverdeados) são alegoricamente dispostos de modo a formar a visão que o Neo estaria tendo naquele momento, do corredor com os três agentes à sua frente. É porque, nesse instante, nada mais é segredo para ele, que, assim, pode agora manipular completamente a realidade através apenas da força de seu pensamento. Ele — como diz a serpente no Gênesis — tornou-se um deus, graças ao amor de Trinity (representando, obviamente, o sagrado feminino, a Eva com o seu fruto, ou a Virgem com sua divina graça).
E para concluir a série de comparações com The Game, temos Arlington's Road (O Suspeito da Rua Arlington), de 1999. Mas essa ficará para uma segunda parte.